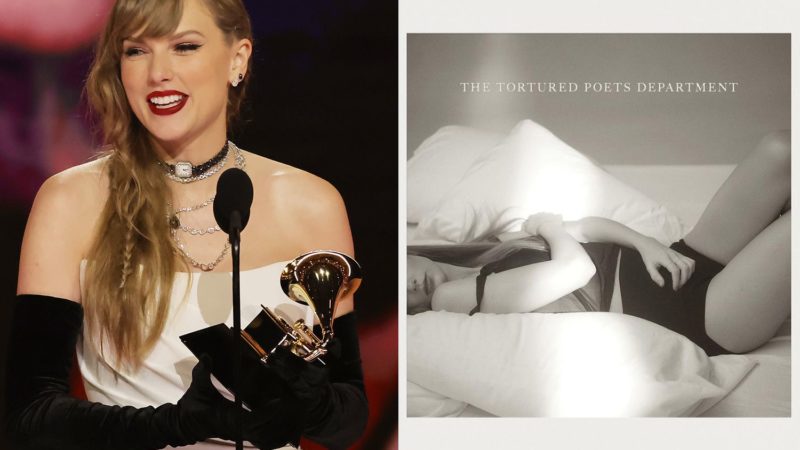Out of blue comes green

Escrita para mim sempre foi como álcool. Por mais que a gente evite a ressaca que ele traz, é difícil escapar do prazer de beber. Nunca parei de escrever, independente do formato. Faz um bom tempo que escrevo todo mês na coluna do jornal do meu bairro, e quase nunca sobre assuntos pertinentes à Sagrada Família. Nunca ganhei um tostão para isso, também nem desejo, embora eu seja obcecado por money. É que, querendo ou não, o dinheiro escraviza, e eu não quero ser obrigado a escrever sobre algo que não tenho vontade. Simples assim, já é doloroso o suficiente escrever sobre algo que mexe comigo.
Desde que me entendo por gente que prefiro me comunicar pela escrita. Na escola, eram cartas. Na faculdade, e-mails. Hoje, o Rock Cabeça, que toma boa parte do meu tempo. Por isso faço questão de inserir sempre algo da minha persona escritor em cada resenha e/ou matéria que faço. Escrever é uma sina, e quanto mais a gente se distancia, mais o alarme dentro da cabeça incomoda. O peito, então, parece que vai explodir de tantas histórias para contar, boas ou ruins. E chegou o momento em que eu conquistei a “distância” necessária para falar sobre alguns fatos sem correr tanto risco de sofrer distorções do orgulho.
E é bom que se comece do principal, que é a empresa onde trabalho desde 2005, que, querendo eu ou não, tem me sustentado até então, me possibilitado comprar não um, mas dois apartamentos, e até promovido o encontro com a minha, hoje, esposa. Posso ter todos os defeitos do planeta, do universo, porém ingratidão nunca foi um deles – e olha que é o que mais recebo em troca da galera. Fato é que, apesar de ser grato por tudo que a Rádio Inconfidência me ofereceu, minha carreira, se eu posso chamar disso, estagnou com a comodidade de, até então, ter um emprego estável, por meio de concurso público.
Se me perguntam o que tenho vontade de fazer hoje, digo sem hesitar: mudar para os Estados Unidos, trabalhar com jornalismo musical, mas em inglês. INGLÊS. E aqui vem o choque: nunca fui fã de música brasileira, especialmente depois que ela se tornou um dos gatilhos para a minha depressão. Eu, criança, no clube – white people’s problems total, eu sei – porém, na insegurança da dependência física e emocional (até hoje) de um pai alcóolatra que não tinha hora para ir embora dali enquanto a rádio tocava Guilherme Arantes e minha cabeça de menino esturricava ao sol.
Mais do que o alcoolismo do meu pai, a depressão que está no gen de toda a minha família, seja por parte de pai ou mãe, foi e ainda é uma sombra sobre minha vida. E eu nunca fui exceção à regra. Bem pequeno eu me trancava no banheiro, espalhando velas pela pia e rezando para meu pai parar de fumar. Outras vezes simplesmente ligava a torneira bem alto para não escutar meus pais brigando. O que acontecia invariavelmente todos os fins de semana da minha infância/adolescência.
Foi aí que a música, pela primeira vez, salvou a minha vida. Uma vitrola phillips e, depois, um aparelho de som com fita cassete e disco de vinil me permitiam escapar o dia inteiro. Cheguei a escutar “Heartland” do Rattle And Hum (U2) um sábado inteiro deitado na minha cama enquanto minha família fazia o social lá fora. Outras vezes eram os discos do A-ha que eu me arriscava a traduzir sem falar uma palavra de inglês. Decifrar o que dizia aquela música pop, que amortecia todo o meu medo e desamparo, era como encontrar um novo amigo.
E por muito, muito tempo, A-ha se tornou a senha para fugir da solidão.
continua ——————->